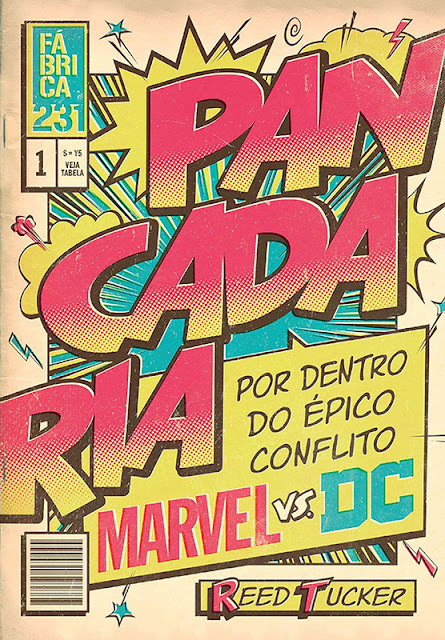No final da década de 30, um grupo de cientistas se reunia na cidade de Boston para discutir assuntos científicos.
Eles se sentavam ao redor de uma mesa redonda, jantavam e um deles propunha um assunto para discussão.
Embora a maioria fosse procedente da Universidade de Havard, eram pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento. Havia psicólogos, biólogos, matemáticos, físicos, filósofos, neurologista, engenheiros...
As reuniões haviam surgido a partir de uma percepção compartilhada por todos os integrantes do grupo: a especialização cada vez maior dos cientistas estava se tornando um problema. Psicólogos desconheciam completamente o trabalho de biólogos. Físicos não se interessavam minimamente pelas pesquisas dos matemáticos...
Em outras palavras, os cientistas de diferentes áreas se especializavam em campos cada vez menores e desconsideravam inteiramente o trabalho de outros pesquisadores que não faziam parte desses campos.
Esse estado de coisas poderia ser exemplificado pela anedota de Bernard Shaw: “O especialista é um homem que sabe cada vez mais num terreno cada vez menor, o que o fará chegar a saber tudo... sobre nada”.
Em pouco tempo agregou-se ao grupo um professor do Massachusetts Institute of Technology chamado Nobert Weiner.
Weiner era uma dessas inteligências enciclopédicas, que dominam vários campos de conhecimento. Aos 18 meses ele já aprendera a ler. Aos sete anos já estava familiarizado com a teoria da evolução, de Charles Darwin, que iria influenciar toda a sua obra. Aos 14 anos se licenciou em ciência. Aos 18 já havia terminado o doutorado.
Weiner estava plenamente de acordo com o promotor dos encontros, o Dr. Arturo Roseblueth, da Havard Medical School, em deplorar a especialização excessiva para a qual a ciência estava se direcionando.
“Cada um tem grande tendência a considerar o tema vizinho como pertencente, com exclusividade, ao seu colega da terceira porta à direita do corredor”, escreveu Weiner.
A maioria dos participantes da mesa redonda compreendia que estava se criando ali um novo paradigma, uma nova forma de ver o mundo e a natureza. A idéia era não separar para conhecer melhor, como previa o pensamento de Descartes, mas analisar as partes em suas relações entre si e com o todo.
Mas era necessário dar um nome a esse novo paradigma.
Embora boa parte das discussões envolvessem máquinas e mecanismos de calcular, Weiner não queria um nome que lembrasse muito a máquina, afinal a idéia era justamente criar um campo de estudo que pudesse explicar tanto fenômenos mecânicos quanto humanos, tanto computadores quanto homens. Por essa mesma razão, não era aconselhável usar um nome que fosse muito humano.
O objetivo era encontrar uma nomeclatura que representasse uma ciência que estudasse homens, animais e máquinas como um todo; uma ciência que estivesse mais interessada nas semelhanças que nas diferenças entre esses três reinos.
Um dos problemas básicos da cibernética era o do controle e foi dessa característica que surgiu o nome da nova ciência: cibernética.
A palavra cibernética havia sido utilizada antes pelo fisico inglês James Maxwell num artigo de 1886 sobre controle de máquinas.
Muito antes disso, Platão havia usado a palavra com o sentido de “a arte de governar os homens”.
Os gregos usavam o termo para se referir à arte de governar navios. Em outras palavras, era o ofício do piloto. Necessariamente não é o piloto que traça o percurso do navio, mas ele é o responsável por fazê-lo chegar ao seu destino. Para isso, o piloto corrige continuamente o navio, que é afetado por uma série de ruídos: ventos, correntes maríticas...
O melhor piloto é aquele capaz de perceber rapidamente as alterações na rota e de responder a elas, corrigindo o curso.
É, portanto, um problema de comunicação. A cibernética irá se interessar muito por problemas de comunicação, especialmente a comunicação entre máquina-máquina e máquina-homem.
Isaac Epstein lembra que o conceito de cibernética não é necessariamente positivo: “As sociedades não têm alvos claros e aceitos por consenso. O equilíbrio e a homeostase podem estar a serviço de sistemas autoritários e iníquos. Às vezes até do genocídio”. (Epstein, 1986, p. 9)
Muitas vezes, o objetivo traçado pode não estar a serviço da humanidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a IBM, que utilizou seus sofisticados equipamentos para identificar judeus que seriam exterminados pelos nazistas.
Epstein propõe que, em situações como essa, em que os objetivos não são aceitáveis, seja utilizada a cibernética como anti-cibernética. É o que fazem, por exemplo, os ciberpunks.
A primeira oportunidade de colocar a cibernética em prática surgiu com a II Guerra Mundial.
Havia uma preocupação generalizada por parte dos aliados de evitar que a Inglaterra fosse derrotada por um ataque aéreo fulminante. Para isso seria necessário desenvolver máquinas de ataque anti-aéreo.
O problema não era apenas de física ou de matemática. Se fosse, bastava calcular o local em que estaria o avião após efetuar o bombardeio.
Acontece que o piloto, sabendo que seria alvejado, desviava.
A questão, portanto, envolvia física, psicologia e biologia (a curvatura seria limitada pela resistência fisiológica do piloto). Era um problema cibernético em sua essência. E só um grupo de pesquisadores de várias áreas trabalhando em conjunto poderia solucioná-lo.
A resposta foi encontrada no feedback, ou retroalimentação.
A idéia de feedback é antiguíssima. A própria vida tem uma série de processos auto-reguladores. Hipócrates já havia formulado a hipótese de que existem mecanismos no corpo humano que tendem a ser opor às patologias.
O que a cibernética fez de diferente foi estudar a fundo a retroação e compreender seu funcionamento.
No campo da comunicação, o conceito de feedback como elemento essencial do processo de comunicação influenciou a maior parte dos autores posteriores à cibernética, entre eles o educador Paulo Freire.
O feedback torna menos unilateral o processo de comunicação, pois só podemos dizer que houve, de fato, comunicação, quando há uma resposta ao estímulo inicial.
Se chamo um cachorro e ele se aproxima, estabeleceu-se uma comunicação. Embora o feedeback não tenha ocorrido no mesmo canal e mesmo código, é inegável que o receptor respondeu à mensagem.
Se, por outro lado, o animal não se mexe, o processo de comunicação não se estabeleceu, talvez em decorrência de um ruído (o cachorro pode, por exemplo, ser surdo).
Essa nova maneira de ver os fenômenos encarando-os como problemas de comunicação e de controle (que deveriam ser estudados por várias disciplinas em conjunto) forneceu uma poderosa percepção que influenciaria muitos pensadores e voltaria com grande força com a teoria do caos e o pensamento complexo de Edgar Morin.