Monteiro Lobato é mais
conhecido pela sua literatura infanto-juvenil. Ele, entretanto, tem uma extensa
e realmente impressionante literatura para adultos. E, nesse nicho, Urupês,
lançado originalmente em 1918, é, sem sombra de dúvidas, sua obra-prima.
O livro é fruto direto do
texto “Velha praga”, que integra o volume. Indignado com a devastação provocada
pelas queimadas no vale do Paraíba, prática que destruía a vegetação local e
empobrecia o solo, Lobato escreve o texto e envia para a seção “Queixas e
reclamações” do jornal O Estado de São Paulo.
Os editores gostaram tanto
do texto que resolveram publicá-lo como artigo. O impacto foi tão grande que
animou o autor a lançar-se como escritor.
Vendeu a fazenda, herança do
avô, comprou a Revista do Brasil e lançou Urupês. Mandou imprimir mil
exemplares, na esperança de conseguir vender tudo em cinco anos. Pouco tempo
depois, já cogitava uma segunda tiragem. Agumas livrarias já haviam repetido o
pedido três vezes. Quando Rui Barbosa citou a obra em um dos seus discursos, as
vendas estouraram. Antes de um ano, as tiragens já estavam na casa dos 4 mil
exemplares. Em 1921, o livro já tinha vendido 21 mil exemplares, um best seller
absoluto para um país em que a maioria da população era analfabeta.
Urupês reúne dois artigos (o
velha Praga e o próprio Urupês, no qual descreve o caboclo, criando a figura
eterna do Jeca-tatu), contos trágicos (Lobato chegou a pensar em nomear a obra
como Dez mortes trágicas) e humorísticos. A riqueza de abordagens mostra o
quanto o escritor era versátil.
Todos os contos têm a
característica de “causos” do interior, como se Lobato os tivesse ouvido
diretamente dos caboclos e apenas transpassado para as páginas.
“O engraçado arrependido” é
a história de um rapaz que não faz nada da vida a não ser contar pilhérias:
“Como fosse de natural engraçado, vivera até ali à custa da veia cômica, e com
ela amanhara casa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente eram micagens,
pilhérias, anedota de inglês, tudo que bole com os músculos faciais do animal
que ri”.
Usando o dom da graça,
Pontes consegue pendurar as contas, consegue que alguém lhe pague as dívidas.
Chega num ponto, só de ouvir seu nome “acendia-se logo o estopim das
fundegadelas”.
Mas pontes cansa dessa vida.
Tenta endireitar-se, arranjar emprego. Todos acreditam que se trata de mais um
de suas insuperáveis pilhérias. Suas tentativas de arranjar um emprego são
recebidas com gargalhadas e comentários sobre como ele não se emendava, o que
faz com que o humor se torne tragédia. Mas até a tragédia se torna motivo de
riso.
“Colcha de retalhos” é,
provavelmente, o melhor conto numa antologia que não tem ponto baixo. Na história, um fazendeiro procura um sitiante
para propor-lhe um trabalho. O tal sitiante viera da cidade e se embrutecera:
“A vida lhes correu áspera na luta contra as terra ensapezadas e secas, que
encurtam a renda por mais que dê de si o homem. Foram rareando as idas à cidade
e ao cabo de todo se suprimiram. Depois que lhes nasceu a menina, rebento
floral em anos outoniços, e que a geada queimou o café novo, o velho, amuado,
nunca espichou o nariz fora do sítio”.
O velho recusa a oferta de
emprego, mas a visita vale por conhecer-lhe a sogra, uma senhora simpática, que
costura uma colcha de retalhos com pedaços dos vestidos da neta descartados. A
ideia é que essa colcha seja o presente de casamento para a menina.
O conto une a descrição
bucólica da natureza que tanto caracterizou o melhor da proza de Lobato com
expressões caipiras e diálogos vivos de frescor natural, que antecipavam o
modernismo: “Mecê é gabola porque nunca padeceu doença – nem dor de dente! Mas
eu? Pobre de mim! Só admiro ainda estar fora da cova”. É também um tremendo
drama humano simbolizado pela colcha de retalhos.
“A vingança da peroba”
mistura humor e drama. Conta a história de dois vizinhos, Os Porunga, gente
sensata e trabalhadora e os Nunes, cujo patriarca, decaíra em razão de muita
cachaça na cabeça. Numa casa cheia de mulheres, tivera um único filho,
Pernambi, um garoto de sete anos que desde cedo fora ensinado a beber cachaça e
a andar com faca de ponta na cintura: “Homem que não bebe, não pita, não tem
faca de ponta, não é homem!”.
O drama se estabelece quando
Nunes resolve derrubar uma peroba que dividia o terreno com os Porunga (e,
portanto, pertencia aos dois) para fazer um monjolo. O resultado, claro, é
trágico.
“O mata pau” é outro conto
que resume bem as características da melhores histórias lobatianas. A história
inicia com o narrador cavalgando ao lado do capataz quando se depara com algo
que chama sua atenção: “Que raio de árvore é essa?”. “Não vê que é um
mata-pau?”, esclarece o outro. O mata-pau é uma plantinha de nada, que surge
nos galhos das árvores e parece um cipó. A arvore não dá pela coisa. “Só quando
o malvado ganha alento e garra de engrossar, é que a árvore sente a dor dos
apertos na casca. Mas é tarde. O poderoso daí em diante é o mata-pau. A árvore
morre e deixa dentro dele a lenha podre”.
O episódio torna-se um
símbolo para o causo contado pelo capataz, sobre Estevão Queixo d´Anta. Quando
chegou a idade, Estevão quis casar. “Passarinho cria pena é para voar. Se você
já é homem, case”, respondeu o velho pai, em sua sabedoria. A moça pretendida
era uma feiosa menina de 13 anos, da família dos Poca. “Case. Mas ouça o que eu
digo. Os Poca não são boa gente. Os machos ainda servem, mas as saias não valem
nada. Laranjeira azeda não dá laranja lima”.
Estevão teima, casa e monta
fazenda. Uma noite, uma criança aparece em seu quintal, chorando. Pergunta
daqui, pergunta dali, ninguém sabe quem são os pais. Assim, Estevão resolve
adotá-la. O resultado já estava ali entrevisto, na história inicial. “Não é só no
mato que há mata-paus!”, conclui o narrador, ao que o capataz retruca, o olho
parado, pensativo: “Não é por gabar, mas vosmecê disse aí uma palavra que
merece escrita. É tal e qual...”.
Esse tipo de narrativa,
refletindo diretamente o imaginário e o jeito de falar das pessoas do interior
era algo totalmente revolucionário para a época. Mais revolucionário ainda é o
texto que fecha o volume e dá nome ao livro.
Urupês é a desconstrução da
imagem idealizada do caboclo feita pelos escritores românticos: “O indianismo
está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar
de penas passou a chapéu de palha; a ocara virou rancho de sapé; o tacape
afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda troxada”. Nessa imagem
de quem nunca havia se entranhado no interior, o caboclo era uma figura altiva,
orgulhosa, indomável, de virilidade heroica.
Lobato, que morou anos no
interior e teve fazenda, sabia que a imagem não combinava com o Jeca-tatu,
pobre coitado que passa seus dias acocorado, totalmente impassível às mudanças
no mundo. “Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade”, escreve
Lobato.
Sua casa de sapé e lama faz
rir aos bichos construtores. De mobília só tem um banco de três pernas – para
os hóspedes. Três pernas permite o equilíbrio, inútil portanto, colocar uma
quarta, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão.
Sacerdote da grande lei do
menor esforço, o Jeca, ao ver uma parede caindo, coloca nela uma imagem de
Nossa senhora. “Por que não remenda essa parede, homem de Deus?” “Ela não tem
coragem de cair. Não vê a escora?” “Mas, criatura, a madeira está à mão, o cipó
é tanto” “Não paga a pena”.
Posteriormente, Lobato
reveria sua imagem do Jeca, ao perceber que sua inação era fruto de vermes e da
insegurança de saber que no dia seguinte poderia ser expulso da terra. Mas, se
lermos o texto em conjunto com os contos, percebemos que, já ali, nesse livro
clássico, o escritor já revelava um grande carinho e respeito pelo caboclo e
suas histórias.


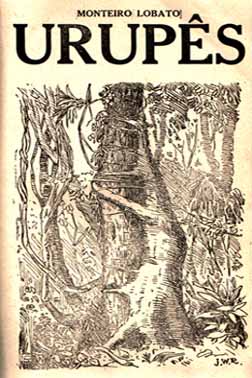
Sem comentários:
Enviar um comentário