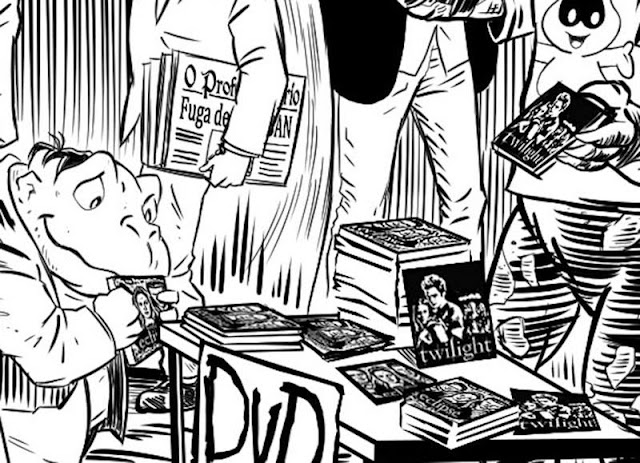Não à toa esse é o motivo número um, a principal razão que afasta jovens de seguir carreira na educação. É de conhecimento até do mundo mineral que o professor é muito desvalorizado. A discussão de hoje vai girar bastante em torno desse tópico, podendo soar meio redundante, confesso. Por enquanto, quero mostrar que essa desvalorização pode ser dividida em três eixos: de salário, de significado e de sentido.
Professor ganha mal, ganha muito mal. Tanto faz se trabalha na rede pública ou particular de ensino, os salários costumam ser ridículos. O piso salarial nacional para os professores, reajustado todo ano (conforme lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008), está nesse ano de 2017 em R$ 2 298,80, para uma jornada de 40 horas semanais. Segundo dados divulgados pelo INEP(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em junho de 2017, na rede federal de ensino, que tem a melhor remuneração do país, o professor recebe em média R$ 48,55 por hora de trabalho. Contudo, menos de 1% dos professores da educação básica recebe mais do que 3500 reais por mês. A rede particular é a que tem o pior salário da categoria, pagando em média R$ 16,24 por hora trabalhada.
O professor leva muito trabalho pra casa. Ele tem provas a corrigir, diários de classe a preencher, relatórios de desempenho dos alunos, pesquisas, lições, projetos. Ele precisa preparar as aulas previamente, os planejamentos, as sequências didáticas. O professor elabora avaliações, prova mensal, prova bimestral, prova de recuperação, outra prova de recuperação, trabalho de recuperação, pesquisa de recuperação, prova substitutiva, prova de segunda chamada. Não raro passa noites em claro trabalhando, finais de semana e feriados. Não possui muito tempo para a família e para os amigos. E nem sempre é compreendido. Leia maishttps://medium.com/ciencia-descomplicada/sete-motivos-para-voc%C3%AA-n%C3%A3o-se-tornar-professor-757acbdccde6