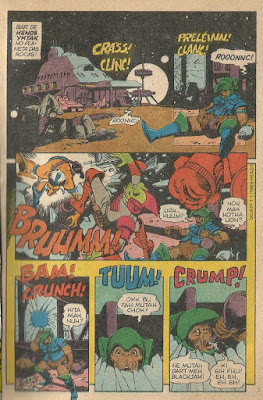domingo, janeiro 22, 2017
sábado, janeiro 21, 2017
A gramática dos super-heróis
Algo que tenho percebido em muitas pessoas que produzem quadrinhos de super-heróis no Brasil atualmente é um desconhecimento dos elementos que compõe um gibi de super-heróis.
Embora os super-heróis tenham surgido no final da década de 1930, foi na década de 1960 que caras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita e Joh Buscema definiram a linguagem definitiva dos super-heróis. O jeito Marvel de fazer quadrinhos era tão inovador, tão poderoso, que a partir daí tudo que foi feito rezou pela cartilha Marvel (mesmo a antagonista DC Comics acabou depois acompanhando essa cartilha).
Assim, para fazer super-heróis é essencial ler clássicos como o Quarteto Fantástico de Lee e Kirby ou o Homem-aranha de Lee-Ditko-Romita. A linguagem está ali, em estado puro, pronta para ser estudada, aprendida e, se for o caso, revolucionada. Os caras que na década de 1980 revolucionaram o gênero, como Frank Miller e Alan Moore conheciam essa gramática dos super-heróis de cor e só conseguiram fazer algo inovador por causa desse conhecimento.
Então, vamos conhecer um pouco dessa "gramática".
Continuação
A grande inovação da Marvel foi apresentar histórias em sequência, dentro de uma cronologia. Hoje praticamente todo mundo faz isso, mas na época era novidade. Na DC, por exemplo, era raro uma história que não concluísse dentro de um gibi. Mas se a continuação pode ser interessante, pode também ser uma armadilha. Imagine o leitor que vai na banca, compra um gibi que não conhece e, ao lê-lo descobre que a história não termina ali, a história para no meio da ação, às vezes no meio de um diálogo. O que o leitor faz? Ele joga fora o gibi. A sequência pode ser interessante, mas para isso precisa ser bem trabalhada, precisa prender a atenção do leitor e levá-lo a comprar o próximo gibi.
Uma forma de fazer isso são os famosos ganchos: uma situação de suspense no final do gibi que deixa o leitor curioso para comprar o próximo número. Imagine: o herói está caído e alguém se aproxima para arrancar sua máscara. Sua identidade será descoberta? Compre o próximo gibi e descubra! Isso vicia o leitor. Outra forma é fazer uma mini-conclusão, como se cada gibi fosse um capítulo de um livro. Uma parte do conflito é resolvida no final daquele gibi, mas há algo maior, que o leitor só saberá como acaba lendo os próximos gibis.
Stan Lee e Jack Kirby nos seus melhores momentos experimentavam uma união dessas duas estratégias. Uma parte do conflito era resolvida, só para surgir um conflito ainda maior em seguida. Thor estava para ser derrotado por um inimigo invencível. Então surgia um ser poderoso e derrotava o vilão (o que fechava a trama daquele gibi). Mas aí o leitor descobria que o ser poderoso só havia feito isso porque ele mesmo queria ter a honra de matar o herói (e aí temos o gancho para o próximo gibi).
Muitas vezes o gancho desembocava no próximo gibi numa cena impressionante, numa... splash page!
Splash page
Lee e Kirby sabiam que os quadrinhos são uma mídia visual. Páginas e páginas de diálogos não são nada diante de uma imagem poderosa, de impacto, ação, especialmente para os leitores de super-heróis. Assim, colocar uma splash page no início de cada história era uma forma de agarrar o leitor, conquistá-lo já no começo. A primeira coisa a se dizer sobre splash page é que ela deve ser uma cena de impacto e deve ser relevante para a história. Uma sequência de diálogo, por exemplo, não funciona como splash page (uma vez Kirby fez uma splash page de diálogo, mas eram dois deuses conversando algo grandioso, em um cenário grandioso, de modo que acabou valendo).
Splash page deve concentrar toda a ação, mistério, suspense da história. Ela pode vir na primeira página. Ou na segunda, ou terceira página, sendo consequência direta do que veio antes. Um exemplo nesse sentido: o herói entra no esconderijo do vilão e a primeira página o mostra entrando. Na segunda ou terceira página ele está lá dentro e está sendo atacado por todos os lacaios do vilão numa imagem de tirar o fôlego!
Lembrando que a splash page, embora seja normalmente uma página inteira, pode também ocupar duas páginas, tendo ainda mais impacto. Em tempo: é na splash page que são colocados o título da história e os créditos.
Recapitulando
Como as revistas da Marvel eram quase todas em continuação e nem sempre o leitor havia comprado o gibi anterior, Stan Lee inventou um estratagema para situá-lo. Era praticamente uma norma que nas primeiras páginas o roteirista situasse o leitor dentro da história. Para isso ele deveria, obrigatoriamente, com o texto, responder a três perguntas: Quem? Onde? O que está acontecendo? Alguns roteiristas chegavam até mesmo a colocar essas perguntas no texto, respondendo-as.
Esses são alguns elementos básicos. Para melhor entendê-los (e perceber outros elementos) vale a dica do início: ler os clássicos. Vale a pena comprar uma antologia de histórias clássicas da Marvel e aprender um pouco como essas histórias eram feitas.
Embora os super-heróis tenham surgido no final da década de 1930, foi na década de 1960 que caras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita e Joh Buscema definiram a linguagem definitiva dos super-heróis. O jeito Marvel de fazer quadrinhos era tão inovador, tão poderoso, que a partir daí tudo que foi feito rezou pela cartilha Marvel (mesmo a antagonista DC Comics acabou depois acompanhando essa cartilha).
Assim, para fazer super-heróis é essencial ler clássicos como o Quarteto Fantástico de Lee e Kirby ou o Homem-aranha de Lee-Ditko-Romita. A linguagem está ali, em estado puro, pronta para ser estudada, aprendida e, se for o caso, revolucionada. Os caras que na década de 1980 revolucionaram o gênero, como Frank Miller e Alan Moore conheciam essa gramática dos super-heróis de cor e só conseguiram fazer algo inovador por causa desse conhecimento.
Então, vamos conhecer um pouco dessa "gramática".
Continuação
A grande inovação da Marvel foi apresentar histórias em sequência, dentro de uma cronologia. Hoje praticamente todo mundo faz isso, mas na época era novidade. Na DC, por exemplo, era raro uma história que não concluísse dentro de um gibi. Mas se a continuação pode ser interessante, pode também ser uma armadilha. Imagine o leitor que vai na banca, compra um gibi que não conhece e, ao lê-lo descobre que a história não termina ali, a história para no meio da ação, às vezes no meio de um diálogo. O que o leitor faz? Ele joga fora o gibi. A sequência pode ser interessante, mas para isso precisa ser bem trabalhada, precisa prender a atenção do leitor e levá-lo a comprar o próximo gibi.
 |
| A história termina em uma situação de suspense: gancho para o próximo gibi. |
Uma forma de fazer isso são os famosos ganchos: uma situação de suspense no final do gibi que deixa o leitor curioso para comprar o próximo número. Imagine: o herói está caído e alguém se aproxima para arrancar sua máscara. Sua identidade será descoberta? Compre o próximo gibi e descubra! Isso vicia o leitor. Outra forma é fazer uma mini-conclusão, como se cada gibi fosse um capítulo de um livro. Uma parte do conflito é resolvida no final daquele gibi, mas há algo maior, que o leitor só saberá como acaba lendo os próximos gibis.
 |
| O conflito foi resolvido. Mas a história terminou? Isso você só saberá no próximo gibi. |
Stan Lee e Jack Kirby nos seus melhores momentos experimentavam uma união dessas duas estratégias. Uma parte do conflito era resolvida, só para surgir um conflito ainda maior em seguida. Thor estava para ser derrotado por um inimigo invencível. Então surgia um ser poderoso e derrotava o vilão (o que fechava a trama daquele gibi). Mas aí o leitor descobria que o ser poderoso só havia feito isso porque ele mesmo queria ter a honra de matar o herói (e aí temos o gancho para o próximo gibi).
Muitas vezes o gancho desembocava no próximo gibi numa cena impressionante, numa... splash page!
 |
| Splash page ocupando a primeira página. |
Splash page
Lee e Kirby sabiam que os quadrinhos são uma mídia visual. Páginas e páginas de diálogos não são nada diante de uma imagem poderosa, de impacto, ação, especialmente para os leitores de super-heróis. Assim, colocar uma splash page no início de cada história era uma forma de agarrar o leitor, conquistá-lo já no começo. A primeira coisa a se dizer sobre splash page é que ela deve ser uma cena de impacto e deve ser relevante para a história. Uma sequência de diálogo, por exemplo, não funciona como splash page (uma vez Kirby fez uma splash page de diálogo, mas eram dois deuses conversando algo grandioso, em um cenário grandioso, de modo que acabou valendo).
 |
| Splash page de página dupla, ocupando as páginas 2 e 3. |
Splash page deve concentrar toda a ação, mistério, suspense da história. Ela pode vir na primeira página. Ou na segunda, ou terceira página, sendo consequência direta do que veio antes. Um exemplo nesse sentido: o herói entra no esconderijo do vilão e a primeira página o mostra entrando. Na segunda ou terceira página ele está lá dentro e está sendo atacado por todos os lacaios do vilão numa imagem de tirar o fôlego!
 |
| Sequência de ação que desemboca numa splash page. |
Lembrando que a splash page, embora seja normalmente uma página inteira, pode também ocupar duas páginas, tendo ainda mais impacto. Em tempo: é na splash page que são colocados o título da história e os créditos.
Recapitulando
Como as revistas da Marvel eram quase todas em continuação e nem sempre o leitor havia comprado o gibi anterior, Stan Lee inventou um estratagema para situá-lo. Era praticamente uma norma que nas primeiras páginas o roteirista situasse o leitor dentro da história. Para isso ele deveria, obrigatoriamente, com o texto, responder a três perguntas: Quem? Onde? O que está acontecendo? Alguns roteiristas chegavam até mesmo a colocar essas perguntas no texto, respondendo-as.
Esses são alguns elementos básicos. Para melhor entendê-los (e perceber outros elementos) vale a dica do início: ler os clássicos. Vale a pena comprar uma antologia de histórias clássicas da Marvel e aprender um pouco como essas histórias eram feitas.
Pra que serve a metodologia científica?
Uma pergunta comum de meus alunos é: “Para que
serve a metodologia científica?”. A resposta mais simples, e também a mais
reducionista é que a metodologia serve para que o aluno possa fazer o trabalho
de conclusão de curso, o famoso TCC.
Recuso-me
a acreditar que a metodologia científica sirva só para isso. Na verdade, espero
que a disciplina desperte nos alunos o espírito científico. Não quero dizer com
isso que pretenda transformá-los em cientistas (embora alguns provavelmente
sigam essa carreira), mas que utilizem os critérios científicos no seu
dia-a-dia.
Segundo
Humberto Maturana, a ciência é uma forma de explicar o mundo. É através dela
que compreendemos a realidade em que vivemos. Existem outras formas de
explicações, algumas das quais são até superiores à ciência em determinados
recortes da realidade. Mas a ciência se destaca por seguir uma metodologia que
foi construída ao longo de séculos, e critérios específicos para distinguir o
que é uma boa explicação e o que não é.
Quando
tinha oito anos, meu filho se viu em dúvida sobre qual é o animal mais rápido
do mundo. Alguns diziam que era guepardo; já para outros, era o falcão.
Quem
estava com a razão? Eu o orientei a verificar a fonte de cada informação. Nesse
assunto, por exemplo, a opinião de um zoólogo tem muito mais validade que a
opinião de um leigo. Ao se deparar com duas informações controversas, o ideal é
verificar qual das fontes tem mais credibilidade. A revista Superinteressante é
mais confiável que a Recreio. Por sua vez, a Scientific American é mais
confiável que a Super. Por outro lado, uma revista científica, editada por uma
sociedade de pesquisa, é mais confiável que a Scientific American.
Diante
de informações contraditórias sobre fontes igualmente confiáveis (digamos que a
Galileu diga uma coisa e a Super outra), o ideal é procurar uma terceira fonte.
Isso
vale até para informações que recebemos oralmente. Se um amigo me diz que o
supermercado foi assaltado e outro afirma que a vítima foi a padaria, e se
estou interessado no assunto, devo procurar uma terceira pessoa, de preferência
alguém que estivesse presente ao
acontecimento (uma fonte, portanto, mais confiável).
Esse
princípio básico, que jornalistas, administradores e profissionais em geral,
usam em seu dia-a-dia é um critério científico que remonta ao filósofo René
Descartes, segundo o qual nunca devemos aceitar como verdade, algo que não
conhecemos evidentemente como tal e, antes de chegar a uma conclusão sobre um
assunto, fazer todas as revisões e verificações necessárias.
Um
aspecto que costuma assustar os estudantes que se deparam com a metodologia
científica é o projeto de pesquisa. Talvez porque ele seja ensinado como um
modelo rígido que deve ser seguido sem que seja necessário compreender muita
coisa.
Acontece
que cotidianamente fazemos, informalmente, projetos de pesquisa.
Um
exemplo corriqueiro: quero fazer uma receita de bolo. Eu tenho consciência de
que um bolo é uma junção sólida de uma série de ingredientes, tais como ovos,
farinha de trigo e leite, mas percebo que sou incapaz de fazer algo comível sem
uma receita. Então me lembro que minha avó me conseguiu uma receita de um
delicioso bolo de milho com queijo.
Surge
um problema: onde está a receita? O problema é uma pergunta, que deve ser
respondida através de uma pesquisa. É um ponto básico de qualquer projeto
científico.
Mas
não basta ter um problema, também é necessário ter uma hipótese, uma resposta
provisória, que irá orientar minha pesquisa. Senão corro risco de passar anos
procurando pela receita.
Minha
hipótese é: a receita está dentro de um dos livros de minha biblioteca. Quando
mais específica for minha hipótese, melhor. A hipótese “A receita do bolo está
dentro do livro O nome da rosa” é melhor que a anterior, pois é mais
específica.
Bem,
resta pesquisar, mas para isso é necessário ter um método. Posso decidir, por
exemplo, que o melhor método para encontrar a receita é abrir o livro e
folheá-lo.
Em
seguida, faço a pesquisa, que pode confirmar ou falsear a hipótese.
Estão
aí os elementos básicos de um projeto: o tema (o bolo); um problema (Onde está
a receita de bolo?); uma hipótese (a receita de bolo está dentro do livro O
nome da rosa) e uma metodologia. Poderíamos acrescentar o objetivo (encontrar a
receita de bolo).
O
exemplo, espero, demonstra que a metodologia não é uma coisa misteriosa, que
deve ser decorada para passar de ano e depois esquecida. Ao contrário, o
espírito científico e sua forma de agir (a metodologia) são essenciais para
lidarmos com boa parte das questões com as quais nos deparamos no nosso
cotidiano, seja a indagação sobre onde está a receita de bolo ou a decisão, por
parte de um administrador, se acredita ou não em determinada informação.
Os
grandes autores aos quais a metodologia científica é devedora (René Descartes,
Karl Popper, Thomas S. Kuhn, Humberto Maturana, Edgar Morin) não estavam
pensando em criar um método que deveria ser seguido apenas por cientistas, mas
uma forma de pensar que ajudasse as pessoas, em geral, a compreenderem o mundo
em que vivem.
sexta-feira, janeiro 20, 2017
O livro dos códigos
Os códigos existem para facilitar a comunicação. São eles que nos dizem o que pode e o que não pode, o que representa algo e o que não representa nada. Sem eles, não seria possível se comunicar nem mesmo através de gestos, pois também esse tipo de comunicação passa por uma codificação. Mas existem situações em que códigos são criados com o objetivo específico de tornar o texto transparente para quem tem a chave e absolutamente incompreensível para quem não a tem. São as cifras secretas, utilizadas principalmente na política e na guerra.
O Livro
dos Códigos, de Simon Sigh, lançado recentemente pela editora Record, trata
desses últimos. O alentado volume de quase quinhentas páginas trata da história
dos códigos secretos e da luta entre dois times, os criptógrafos, que os
criavam e tinham como objetivo mantê-los inquebráveis, e os criptoanalistas,
que objetivavam descobrir a mensagem por trás de um emaranhado superficialmente
incompreensível.
É um
livro altamente aconselhável para quem gosta de história, mas principalmente
para quem gosta de exercitar a massa cinzenta. O Livro dos Códigos se
encaixa naquela categoria de livros que são para o cérebro o que Solange Frazão
é para a panturrilha.
O
aspecto histórico fica por conta dos momentos dramáticos que envolveram a
criação ou a quebra de códigos. Não por acaso, o volume começa com Maria, a
Rainha da Escócia, que, presa na Inglaterra, estava diante de uma corte, sendo
acusada de articular o assassinato da rainha Elizabeth.
Na
verdade, os católicos ingleses pretendiam de fato assassinar Elizabeth, a
rainha protestante, e colocar em seu lugar Maria. Mas queriam antes ter a
aprovação de Maria. Assim, escreveram para ela uma mensagem cifrada, pedindo
autorização para o levante. Maria respondeu positivamente, também através do
código secreto.
Acontece
que o primeiro secretário da rainha Elizabeth havia interceptado a mensagem e
prendido os revoltosos. Restava julgar Maria. Mas, embora desprezasse sua prima,
a rainha da Inglaterra tinha razões de sobra para não condena-la à morte.
Primeiramente porque a ré era uma rainha de outra nação e muitos contestavam a
autoridade de uma corte inglesa sobre ela. Além disso, a morte de Maria poderia
criar um precedente perigoso. Se um júri poderia enviar uma rainha à morte,
então talvez o populacho se sentisse tentado a fazer o mesmo com Elizabeth. Por
último, havia o laço de sangue.
A
condenação de Maria dependia de provas de que ela participava do plano e isso
só poderia ser conseguido com a quebra da cifra.
Os
revoltosos haviam criado um código em que cada letra era representada por um
símbolo. Além disso, havia nulos, ou seja, sinais que não tinham valor algum e
só serviam para complicar a vida de quem tentasse decifrar a mensagem.
Um
leigo que olhasse a mensagem acharia que seria impossível decodificá-la sem a
chave apropriada.
O
mesmo ocorreria com uma cifra de César. Essa forma de codificar mensagens,
criada pelo famoso estadista romano consistia em trocar as letras da mensagem
original pelas terceiras letras seguintes do alfabeto. Assim, o A virava D, o B
virava E e assim por diante. Mas, da mesma forma que a mensagem poderia ser
escrita deslocando-se três casas, o criador do código poderia deslocar cinco, seis
ou até vinte e cinco casas. Um general inimigo que interceptasse a mensagem
poderia ir tentando as combinações possíveis, mas existem
400.000.000.000.000.000.000.000.000 combinações possíveis. Isso significa que
ele levaria um bilhão de vezes o tempo do universo para verificar todas as
possibilidades. Parece impossível, não? No entanto, meus alunos mais espertos
conseguem realizar tarefa semelhante em muito menos tempo. O recorde é de cinco
minutos.
O
segredo para a decodificação está na redundância. Sabendo em que língua foi escrita a mensagem,
basta ter uma tabela de freqüência da língua e verificar no texto quais são os
sinais mais redundantes e os menos redundantes.
No
português, por exemplo, as letras mais redundantes são as vogais, especialmente
o A e o E. Letras como o X e o Z são as menos redundantes. Sabendo-se isso,
basta trocar os sinais mais redundantes pelas letras mais redundantes e ir
verificando as combinações. Além disso, há a redundância sintática. Em
português, geralmente temos uma estrutura de sujeito – verbo – predicado. O
sujeito geralmente é composto de um substantivo acompanhado de um artigo. Se o
artigo for composto de apenas um sinal, deve ser ou o O ou o A. Se forem dois
sinais, o artigo provavelmente está no plural: OS, AS, o que nos dá mais uma
letra (S). Se o criptoanalista tiver uma idéia do assunto da mensagem, ele pode
experimentar testar palavras que ele acredita constar na mensagem. Isso é
chamado de cola. Se, por exemplo, sabemos que a mensagem trata do horário em que
será feito um ataque podemos usar a palavra HORA como cola e testá-la na
mensagem em vários pontos, até chegar a um resultado positivo. Descoberta uma
palavra, o resto é fácil. Quem já jogou palavras-cruzadas sabe que não é tão
difícil descobrir o significado de palavras incompletas. Se temos, por exemplo,
o conjunto M_NS_GE_, é óbvio que se trata da palavra MENSAGEM.
Esse
método é chamado de análise de freqüência e foi precisamente a técnica
utilizada pelo primeiro secretário da rainha Elizabeth para decodificar a
mensagem e levar Maria ao cadafalso.
A
pobre rainha da Escócia morreu porque sua cifra era fraca, fácil de ser
decodificada.
Mas,
com o tempo, os codificadores foram sofisticando cada vez mais seu trabalho,
assim como os criptoanalistas e os códigos passaram a ser essenciais em
episódios de guerra.
Exemplo
disso foi o telegrama Zimmermann. Durante a I Guerra Mundial, os ingleses
fizeram todos os esforços possíveis para convencer os EUA a entrarem no
conflito. Sem sucesso. O presidente americano, Woodrow Wilson, não queria
sacrificar a juventude de seu país e estava convencido de que a guerra só
terminaria com um acordo negociado. Woodrow saudou a escolha do novo ministro
das relações exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, que parecia querer uma
negociação. Os jornais norte-americanos publicaram manchetes como NOSSO AMIGO
ZIMMERMANN.
Mas,
na verdade, o novo ministro tinha outros planos em mente. Sua idéia era
fazer uma guerra marítima total. O Kaiser havia feito uma promessa ao presidente
norte-americano de que os submarinos emergiriam antes de realizar um ataque, o
que evitaria acidentes com navios dos EUA. Se permanecessem no fundo do mar, os
submarinos seriam invencíveis contra os navios ingleses. Como uma guerra
submarina total afundaria navios norte-americanos, forçando Woodrow a entrar no
conflito, Zimmermann planejava criar uma guerra na América, financiando uma
ofensiva do México contra os EUA.
O
plano foi enviado pelo rádio para o embaixador alemão no México, que deveria
negociar com as autoridades mexicanas.
Acontece
que os ingleses interceptaram a mensagem e a decifraram, passando-a para o
embaixador norte-americanos na Inglaterra. Os EUA não tiveram outra
alternativa, senão entrar na guerra. Segundo Sigh, “uma única descoberta feita
pelos criptoanalistas da Sala 40 conseguira sucesso onde três anos de
diplomacia tinham fracassado”.
Mas
o momento mais emocionante da atuação dos criptoanalistas foi a Segunda Guerra
Mundial.
Os
alemães haviam inventado uma máquina capaz de cifrar uma mensagem com grande
rapidez e enorme confiabilidade. Chamava-se Enigma e era parecida com uma
máquina de escrever, com a diferença de que uma letra, ao ser escrita, era
trocada por outra letra de um alfabeto codificado. Havia uma série de misturadores,
o que faziam com que a mensagem fosse codificada em vários alfabetos cifrados.
Além disso, havia cabos que trocavam as letras, assim o A poderia ser
codificado como B e assim por diante. A ordem interna dos misturadores e dos
cabos podia mudar completamente o código e isso era feito todo dia pelos
nazistas. Ou seja, a cada dia os germânicos tinham um código altamente seguro e
diferente do usado no dia anterior, o que fazia com que os ingleses tivessem
que decifrar o código diariamente. Além disso, a mesma máquina que era usada
para codificar, poderia ser usada para decodificar. Um texto cifrado
datilografado nela dava origem ao texto original.
Os
ingleses conseguiram com os poloneses uma cópia da máquina Enigma, mas isso não
ajudava muito, pois a Enigma poderia ser ajustada de acordo com
10.000.000.000.000.000 chaves diferentes. Seria necessário mais tempo do
que a idade total do universo para
chegar cada ajuste e, sinceramente, até lá a guerra já teria acabado.
A
Enigma seria indecifrável, não fosse pela genialidade de Alan Turing, um dos
autores que dariam origem ao ramo da ciência conhecido como cibernética.
O
maior inimigo de um código secreto é a redundância. É ela que permite ao
criptoanalista decifrar a mensagem. Na Enigma havia pouca redundância, mas,
observando os textos que haviam sido decifrados, Turing percebeu uma
redundância na mensagem. Muitas delas obedeciam a uma estrutura rígida. Ele
descobriu, por exemplo, que os alemães mandavam relatórios sobre a previsão do
tempo logo depois das seis horas da manhã. Dessa forma, uma mensagem
interceptada nesse horário certamente conteria a palavra alemã para tempo,
WETTER. Como havia um protocolo rigoroso sobre a formatação dessas mensagens,
Turing poderia ter idéia até mesmo de onde a palavra WETTER estaria na
mensagem. Descoberto o texto cifrado de WETTER, bastava ajustar a máquina que
transformariam a palavra no texto cifrado. Feito isso, a Enigma revelava
completamente seus segredos.
As
mensagens decifradas pelos ingleses foram fundamentais para a vitória aliada na
Segunda Guerra, tanto que Winston Churchill chegou a visitar o local em que
ficavam os decifradores, em
Bletchley Park.
Entretanto,
Turing jamais pôde coletar os frutos de seu trabalho. Em 1952 ele foi se
queixar em uma delegacia de que havia sido roubado. Ingênuo, ele revelou que
estava tendo um relacionamento homossexual no momento do furto. A polícia
prendeu-o, acusando-o de “Alta indecência, contrária à seção 11 da lei
Criminal, Emenda de 1885”. Os jornais divulgaram a notícia, Turing foi julgado,
o governo britânico tomou-lhe seu passe de segurança e o retirou dos projetos
de pesquisa relacionados com o desenvolvimento do computador. No dia 7 de julho de 1954 ele foi para seu
quarto, levando uma maçã e um jarro com cianeto. Mergulhou a maçã na solução e
comeu. Com apenas quarenta e dois anos morria um dos maiores gênios da
cibernética e da criptoanálise.
A primeira exposição de quadrinhos
Em 1951, o mundo parecia odiar os quadrinhos. As denúncias do
psicólogo Fredric Werthan (segundo o qual os gibis eram os responsáveis pela
delinqüência juvenil) haviam provocado a instalação de um inquérito no senado
norte-americano. No Brasil, os professores tiravam cinco minutos em todas as
aulas para falar dos perigos desse novo meio de comunicação. E as crianças que
se aventuravam a levar gibis para a escola acabavam vendo suas revistas
queimadas nos pátios na hora do recreio.
Nesse ambiente extremamente negativo, surgiu a primeira
exposição internacional de quadrinhos e o primeiro evento a destacar o caráter
artístico da nona arte. E essa exposição aconteceu no Brasil, por fãs, que
depois se tornaram alguns dos mais importantes quadrinistas brasileiros.
O grupo era composto por Jayme Cortez, Syllas Roberg, Reinaldo
de Oliveira, Miguel Penteado e Álvaro de Moya. Para montar a exposição, eles enviaram
cartas para alguns dos principais quadrinistas americanos, pedindo originais.
Surpreendentemente, foram atendidos. De repente eles se viram com originais de
Ferdinando, de Al Capp, Flash Gordon e Nick Holmes, de Alex Raymond, Buzz
Sawyer, de Roy Crane, Steve Canyon, de Milton Caniff, Big Bem Bolt, de Johnny
Hazard e até mesmo uma página do raro Karzy Kat. Como os quadrinhos não eram
considerados arte na época, ninguém se preocupava em guardar originais. Entre
jogar no lixo e enviar para uma exposição no Brasil, ficaram com segunda opção,
daí a facilidade de conseguir material.
Além dos originais, havia um painel com desenhos de Spirit, de
Will Eisner, com um texto explicando como o autor explorara a linguagem dos
quadrinhos.
Outro painel mostrava os escritores ligados de alguma forma aos
gibis, como John Steinbeck, Thomas Mann, Thorton Wilder e Dorothy Parker.
Outro painel mostrava ilustrações de livros infantis que haviam
sido calcadas de histórias em quadrinhos (um exemplo era o trabalho de André Le
Blanc, que ilustrava os livros de Monteiro Lobato e, posteriormente foi para os
EUA, onde se tornou assistente de Will Eisner).
O objetivo da exposição era mostrar que, por trás dos gibis ou
das tiras, havia toda uma linguagem artística sendo criada, que deveria ser
considerada. Entretanto, os resultados não foram os esperados. Os editores de
quadrinhos, ao invés de incentivar os organizadores da exposição, passaram a
persegui-los, achando que eles queriam banir os comics importados, trocando-os
por material nacional. Muitos perderam seus empregos e foram para a
publicidade. Miguel Penteado e Jaime Cortez fundaram uma editora, a Outubro,
que publicava só quadrinhos nacionais.
Anos depois, num encontro em Nova York, os intelectuais
franceses se vangloriavam de terem sido os primeiros a perceber a importância
dos quadrinhos, ao que Milton Cannif respondeu: ¨Muito antes de vocês,
europeus, os brasileiros fizeram uma exposição, falando as mesmas coisas que
vocês falam agora¨.
quinta-feira, janeiro 19, 2017
Gian Danton é um dos convidados de Congresso de Dramaturgia
Gian Danton será um dos palestrantes do ConaDrama, o 1o Congresso de Dramaturgia. O Congresso será totalmente on-line e gratuito. Entre os palestrantes estão alguns dos principais nomes do cinema, do teatro, da literatura e dos quadrinhos. Para se inscrever no Conadrama clique aqui.
Código
Segundo
a enciclopédia Larousse Cultural, “o código é um sistema de probabilidades que,
aplicado a um sistema desordenado (entrópico ou caótico), reduz as
possibilidades de ocorrência caótica de eventos, facilitando a comunicação”
(Larousse Cultural, 1987, 1489)
A
citação pode parecer complicada, mas não é. Para começar, vamos nos ater ao
objetivo. O código tem como objetivo facilitar a comunicação. Ou seja, sempre
que emitimos algum tipo de comunicação, utilizamos um código, ou nossa mensagem
não seria compreendida.
Mesmo
quando fazemos um gesto (de adeus, por exemplo) estamos usando um código.
As
diferenças de código gestual já provocaram até um incidente diplomático. Um
presidente norte-americano, em visita ao Brasil, fez, para os jornalistas, um
sinal com a mão que consistia em juntar o polegar e o indicador em círculo,
deixando estendidos os outros dedos.
No
código gestual norte-americano, esse gesto representa OK, mas no Brasil o sinal
tem forte conotação obscena.
O
corpo humano tem a possibilidade de realizar os mais variados tipos de
movimentos. Se todos eles fossem portadores de mensagens, estaríamos diante de
um estado entrópico, ou caótico, em que tudo é válido.
Assim,
poderíamos um dia dar tchau balançando a mão aberta e, no outro, rodopiando o
pé, ou abanando as orelhas. E, na semana seguinte, esses mesmos sinais poderiam
ter outros significados.
Não
é necessário ser um expert em cibernética ou semiótica para compreender que um
tal estado de coisas, em que pode tudo, não seria favorável a uma comunicação
eficaz.
Se
encontro alguém na rua e ele me abana as orelhas, como poderei saber qual é a
mensagem que ele quer, de fato, transmitir?
(ele poderia estar abanando as orelhas sem qualquer objetivo de
estabelecer uma comunicação).
É
necessário haver um conjunto de regras que organize as várias possibilidades de
sinais, nos dizendo o que pode e o que não pode, quais sinais têm significado e
quais não têm.
No
código gestual brasileiro, por exemplo, abanar as orelhas não tem significado
nenhum.
O código diminui consideravelmente as possibilidades
de transmissão de mensagens de um canal.
Como
já dissemos anteriormente, um macaco datilografando é um exemplo de entropia.
Ele utiliza todas as possibilidades combinatórias dos sinais que estão à sua
disposição.
O
primata pode, por exemplo, escrever uma mensagem do tipo:
RZHPOITQAAJ
O
texto é muito informativo, mas não comunica nada, pois não respeita as regras
de combinação (sistema de probabilidades) da língua portuguesa.
Em
português, quando temos a letra Q, há uma probabilidade enorme de que a letra
seguinte seja um U acompanhado de uma das seguintes vogais: A, E, O, I.
Assim,
a combinação QA não é possível.
Também
de acordo com o código língua portuguesa, as consoantes são geralmente
acompanhadas de uma vogal. Dessa forma, ao vermos um R, intuímos que a seguinte
será uma vogal, como em RATO.
O
encontro RZ não é aceito pelo código e a probabilidade dele ocorrer é mínima.
Diante
das letras S, C, A e A, algumas combinações se revelam possíveis, outras não.
CASA
é um agrupamento possível, assim como SACA, mas SCAA é uma mensagem
completamente entrópica, a não ser que seja a sigla de uma entidade, por
exemplo.
O
código diminui consideravelmente a possibilidade informativa do canal,
introduzindo redundância nela como uma forma de protegê-la contra o ruído e a
entropia.
Para
visualizar a noção de código, vamos imaginar um canal simples: quatro lâmpadas.
(exemplo extraído de Epstein, 1986)
Imaginemos
que essas quatro lâmpadas sejam usadas para transmitir ao piloto de um avião as
seguintes mensagens: TREM DE POUSO FUNCIONANDO e TREM DE POUSO COM DEFEITO.
O
leitor implicante irá me perguntar: por que usar quatro lâmpadas se eu posso
transmitir a mesma mensagem com apenas uma?
De
fato, esse é o sistema utilizado em um carro, por exemplo. Algumas funções
internas do veículos são transmitidas ao condutor através de uma única lâmpada.
É o que ocorre, por exemplo, com o fluído de freio. Se o fluído de freio está
normal, a lâmpada permanece apagada. Se ela acende, é porque há algum problema.
Acontece
que há uma diferença brutal entre o resultado de uma falha de comunicação em um
carro e um avião.
Se a
lâmpada do fluído de freio estiver queimada, o motorista, ainda assim, tem
condições de descobrir que há algo errado (o freio começa a falhar, por exemplo)
e parar o carro no acostamento.
No
avião, não há tal possibilidade. Uma única falha de comunicação pode provocar
um acidente no qual morrerão dezenas de pessoas.
Como
vimos no capítulo sobre redundância, quanto maior a importância da mensagem e quanto
mais grave a conseqüência de um possível ruído, maior deve ser a redundância
empregada.
Para
isso, usa-se quatro lâmpadas em nosso exemplo: a falha em uma delas não irá
prejudicar a transmissão da mensagem.
Diante
das quatro lâmpadas, temos de estabelecer um código, um conjunto de regras para
a transmissão da mensagem.
O
canal quatro lâmpadas permite 16 combinações possíveis. Usá-las todas seria
equivalente a um estado entrópico/caótico. O mesmo que um macaco brincando com
uma máquina de escrever.
Para
evitar isso, reduzimos para apenas duas as combinações possíveis. Assim: as
duas primeiras lâmpadas acesas e as outras apagadas significa TREM DE POUSO
FUNCIONANDO e as duas primeiras apagas e as outras acesas significa TREM DE
POUSO COM DEFEITO.
Caso
ocorra um ruído (uma lâmpada queimada, por exemplo), ainda assim o receptor
terá capacidade de receber a mensagem e perceberá que a lâmpada queimada é um
ruído, não uma parte da mensagem.
Mafalda
O grande sucesso da HQ argentina é mesmo a Mafalda. Essa
garotinha inteligente e fã dos Beatles surgiu por acaso, em 1962, para uma
campanha publicitária de eletrodomésticos. Ela deveria ser a mascote de uma
empresa e seu nome deveria começar com as mesmas letras da empresa, M e A.Quino
desenhou a personagem e chamou-a de Mafalda, mas a empresa acabou recusando a
campanha.
No ano seguinte, o semanário Primera Plana solicitou a Quino
uma tira cômica e ele tirou da gaveta a personagem criada para a campanha
publicitária. A personalidade atrevida, já existente na versão anterior foi
destacada e, em setembro de 1964 Mafalda estreou no semanário onde passou seis
meses.
Em 1965 a personagem migrou para o diário El mundo, de Buenos
Aires, um dos mais lidos da Argentina, e começou sua escalada de sucesso. Logo
vários outros jornais estavam republicando as tiras.
Em 1966, um pequeno editor de Buenos Aires lança um álbum com
tiras já publicada em jornal. Apesar de não ter havido um grande divulgação, a
publicação se esgota em 12 dias. Logo várias editoras na América latina começam
a publicar álbuns com a personagem com grande sucesso. Na Itália, o álbum da
personagem ganha prefácio de Umberto Eco, um dos mais importantes intelectuais
daquele país, que escreve: ¨O universo de Mafalda não é apenas o de uma América
Latina urbana e desenvolvida; é também, de modo geral e em muitos aspectos, um
universo latino, o que a torna mais compreensível do que muitos personagens de
quadrinhos norte-americanos¨.
De fato, esse é um dos grandes méritos de Mafalda e é o que a
distingue de Peanuts, de Charles Schulz. Charlie Brown reflete a realidade e as
neuras do norte-americano típico. Mafalda é a contestadora, revoltada com as injustiças
do mundo.
Se Peanuts está mais para a psicologia, Mafalda está mais para
a sociologia. A sociedade latin-americana está lá representada nos personagens
da tira. Manolito, por exemplo, é o filho do dono da mercearia. Ele está
plenamente integrado ao capitalismo de bairro. De tudo na vida, só o dinheiro
tem valor e mesmo uma ação simples como brincar de iô-iô tem como objetivo
divulgar a mercearia do pai. Filipe é um sonhador que fantasia com tudo.
Suzanita só pensa em casar.
Quando a ditadura militar se instalou na Argentina, uma nova
personagem se agregou à tira: a pequenina Liberdade.
Algumas das melhores tiras da Mafalda tinham como personagem
coadjuvante um globo terrestre, quase sempre doente. Quino sempre foi muito bom
em metáforas.
quarta-feira, janeiro 18, 2017
Argentina
A década de 40 foi
marcada na Argentina pela ditadura do presidente Perón. Influenciado pelo
nacionalismo nazi-fascista, Perón resolveu acabar com a forte influência
estrangeira dos quadrinhos em seu país proibido a importação de material
americano. A proibição durou apenas alguns anos, mas foi o bastante para
fortalecer a HQ platina, criando uma das escolas mais fortes do mundo.
Antes da proibição já existiam quadrinhos de sucesso, como o
índio Patoruzú, criado por Dante Quinterno, em 1929. Mas foi a partir do
governo Perón que a HQ platina teve um salto. Surgiram grandes publicações,
como a “Rico Tipo’ “Intervalo’; e “Aventura” que iriam alcançar a incrível marca
de 165 milhões de exemplares por ano - metade do que se lia num pais cuja
capital tinha mais livrarias do que todo o Brasil.
Na Argentina não só as
crianças, mas também os adultos foram conquistados pelos quadrinhos. O mercado
se tornou tão forte que até mesmo roteiristas e desenhistas europeus foram
trabalhar na Argentina, como aconteceu com Hugo Pratt e René Goscinny, criador
do Asterix.
Era a inversão: os quadrinistas argentinos lutavam de igual
para igual com os seus concorrentes estrangeiros.
Um dos maiores responsáveis pelo sucesso da HQ Argentina foi o
editor e roteirista Héctor Germán Oesterheld. Filho de uma argentina e um alemão, ele estudou
se formou em geologia, mas abandonou a profissão para se dedicar aos roteiros
de quadrinhos. Durante sua fase mais criativa ele era mais lido que Jorge Luís
Borges, o mais famoso escritor argentino, que chegou a se declarar fã do
roteirista.
Seus roteiros se destacavam pelo
conteúdo humano e pela crítica social. O Eternauta, sua obra-prima, conta a
história da invasão de Buenos Aires por alienígenas durante um rigoroso
inverno. Enquanto os invasores seguem dizimando a população, surge um homem,
Juan Salvo, o Eternauta, que decide combatê-los. Acredita-se que os
extraterrestres tenham sido inspirados nos militares argentinos, que alguns
anos depois instalariam uma ditadura no país.
Oesterheld
trabalhava em todos os gêneros, do faroeste à ficção científica e a fantasia,
criando obras de grande significado. Seus roteiros e seu trabalho como editor
transformaram a HQ Argentina em uma das melhores do mundo.
Entretanto,
sua carreira terminou bruscamente na década de 1970, quando se instalou uma
ditadura militar na Argentina. Oesterheld foi um dos primeiros a serem
perseguidos. Ele e suas filhos acabaram sendo mortos. Da família, só sobrou a
esposa do roteirista e um de seus netos.
Além
de todos os crimes cometidos pelos militares, somou-se mais esse: dar sumiço a
um dos homens mais talentosos já surgidos nos quadrinhos.
A entropia
A entropia é um dos mais instigantes e
também um dos mais controversos conceitos da cibernética. Nilson Lage define
entropia como o oposto de redundância e equivalente ao conceito de informação:
"O conceito de redundância relaciona-se com alta previsibilidade; o de
entropia com baixa previsibilidade". Nobert Wiener, o criador da
cibernética, vai no sentido oposto: "é possível interpretar a informação
conduzida por uma mensagem como sendo, essencialmente, o negativo de sua
entropia". A entropia é vista aqui não como informação, mas como
redundância. Décio Pignatari concorda com as idéias de Wiener. Para ele,
a entropia negativa é igual à informação: "Na desdiferenciação de formas e
funções , teríamos a tendência caótica ou entrópica, cujo ponto extremo seria a
uniformização geral, o caos, onde não haveria possibilidade de informação, nem
troca possível de informação". Epstein, por sua vez, lembra que a
fórmula para medir a entropia, proposta por Clausius em 1864 é idêntica à
proposta por Shannon em 1948 para medir a informação de uma mensagem. Por
outro lado, a entropia pode ser tratada como uma espécie de ruído (eu
mesmo já o fiz em minha dissertação de mestrado).
mesmo já o fiz em minha dissertação de mestrado).
Afinal, o que é entropia? A palavra
entropia foi usada pela primeira vez em 1850, pelo físico alemão Rudolf Julius
Clausius (1822-1888). A origem da palavra são os radicais gregos em (dentro) e
tropee (mudança, troca, alternativa). O termo foi amplamente trabalhado
na física para designar a Segunda Lei da Termodinâmica.
Há várias maneiras de enunciar essa
lei, mas talvez a mais completa seja:
"Todo sistema natural, quando
deixado livre, evolui para um estado de máxima desordem, correspondente a uma
entropia máxima".
A entropia representa a perda
de energia do universo, que ocorre a todo instante, razão pela qual os
cientistas dizem que o universo caminha para a morte térmica. Ela é
irreversível. Por isso, essa energia perdida jamais será recuperada.
Esse sentido único da entropia fez
com que os físicos a chamassem de "a flecha do tempo".
Para exemplificar, imagine duas
canecas de alumínio, uma a 80, outra a 20 graus centígrados. Se encostarmos uma
na outra, o que ocorrerá? A caneca quente esfriará e a fria esquentará. Chegará
um ponto em que as duas estarão à temperatura uniforme de 50 graus. Essa
experiência fez com que Clausius enunciasse a lei da entropia da seguinte
maneira: "É impossível haver transferência espontânea de calor de um
objeto frio para outro mais quente".
Outra característica da entropia é a
mistura indiferenciada. Para visualizar essa propriedade, basta imaginar
dois recipientes ligados por uma comporta, um com tinta branca, outro com tinta
vermelha. Ao abrirmos a comporta, as duas tintas irão se misturando aos poucos,
até chegar o ponto em que não conseguiremos distinguir onde está o branco e
onde está o vermelho. Ou seja, a tinta entra em estado desordenado, pois
a ordem pressupõe uma compartimentação de coisas. Uma estante em que livros e
CDs estejam misturados é mais caótica do que uma estante em que os livros
estejam em uma prateleira e os CDs em outra.
Um detalhe interessante da mistura
das tintas é que as mesmas jamais voltarão à posição inicial, mesmo que
esperemos por toda a eternidade.
É a flecha do tempo, o sentido único
da entropia.
A entropia tem, também, o sentido de
degradação. Assim, a velhice que vai aos poucos tomando conta de nosso corpo é
um exemplo da mesma vivenciado por todos nós, diariamente. Esse processo vai se
acumulando até redundar na fase final: a morte. Não é por outra razão que os
físicos se referem à entropia como a morte térmica do universo.
A palavra entropia foi também usada
em administração para designar empresas que se deixam dominar pelo caos, pela
degradação. Lojas em decadência são um exemplo perfeito de como a entropia
pode destruir um empreendimento: a sujeira toma conta do lugar; a fachada se
tornando aos poucos ilegível; as paredes desbotam; o dono não tem dinheiro o
bastante para fazer as reformas necessárias; e os empregados, desestimulados,
não se empenham para vender mais, diminuindo a renda da firma e acelerando sua
falência.
Uma vez iniciado o processo de
entropia em uma empresa, somente uma injeção maciça de dinheiro pode salvá-la.
Na verdade, é mais prático e barato criar uma empresa nova do que tentar
reerguer uma dominada pela entropia.
Na comunicação, a entropia
está relacionada ao grau de desorganização da mensagem. Quanto mais
desorganizada, mais entrópica. Nos meios acadêmicos, costuma-se brincar
que o melhor exemplo de entropia seria um macaco utilizando uma máquina de
escrever. O resultado dessa traquinagem: uma mensagem totalmente desprovida de
código e entrópica. Portanto, incompreensível.
O código é utilizado com o objetivo
de evitar que o caos tome conta da mensagem.
A entropia, no entanto, pode ter uma
utilização positiva na comunicação, pois uma mensagem extremamente ordenada é
também uma mensagem previsível e, portanto, redundante. A característica de
imprevisibilidade da entropia pode dar à comunicação um toque mais original. É
o que ocorreu, por exemplo, com o surgimento da MTV. Diante da estrutura
ordenada e previsível das emissoras convencionais, a linguagem entrópica da MTV
foi um sopro de criatividade.
A entropia também pode ser usada na
diagramação de revistas, como demonstra a revista Trip.
Exemplos de linguagem entrópica
também podem ser encontradas no cinema. O filme "Clube da Luta", por
exemplo, não só usa uma linguagem caótica, como fala explicitamente do aumento
da entropia no mundo atual. A cena em que o personagem principal se
auto-flagela é um ótimo exemplo disso.
Vale ressaltar que, uma vez
assimilada, essa linguagem entrópica vai se tornando um novo tipo de ordem.
Como diz Umberto Eco, "cada
ruptura da organização banal pressupõe um novo tipo de organização, que é
desordem em relação à organização anterior, mas é ordem em relação a parâmetros
adotados no interior do novo discurso".
Subscrever:
Mensagens (Atom)